O mal-estar na escrita acadêmica, de Robson Cruz
Escrevemos para aprender, estruturar e organizar o pensamento
Existe uma única forma de escrever? É possível que, muitos de nós, influenciados por ideologias românticas ou realistas, como discute Robson Cruz, acreditemos que sim. Afinal, manuais de “como escrever” ou ideais de “gênios intelectuais” são elementos que não faltam, quando o assunto é escrita.
Em “O mal-estar na escrita acadêmica”, publicado em 2024, pela Editora Parábola, o psicólogo, professor da PUC Minas e doutor em Psicologia pela UFMG, Robson Cruz, desenvolve alguns argumentos críticos que nos ajudam a enxergar o fenômeno do sofrimento gerado pela dificuldade na escrita.
O livro é muito cativante para todas as pessoas que se interessam pela escrita, mas ainda mais relevante para quem circula, enquanto aluno ou professor, no meio acadêmico.
Em primeiro lugar, o autor ressalta como a escrita foi uma habilidade, aos poucos, naturalizada, em nossa sociedade pós-industrial. É como se, uma vez alfabetizados e dominada a escrita na infância, fosse uma questão de tempo sairmos por aí analisando, descrevendo, interpretando e articulando ideias.
Ou seja, a capacidade de escrever seria algo naturalmente desenvolvido por todos nós, um processo estático, direto e desvinculado de condições materiais, econômicas e sociais. Não é.
Para iniciar sua discussão, Robson elucida que:
“A escrita não emerge como resultado do desenvolvimento esperado de uma criança a partir das relações informais no interior de comunidades linguísticas responsáveis pelo ensino da fala. Ela depende de artifícios formais definidos por uma organização política, institucional, educacional e econômica que decide como o ensino de tal habilidade é distribuído entre as diferentes pessoas e os distintos grupos e classes sociais. E, claro, como todo bem cultural capaz de gerar trânsito social, a distribuição da escrita nunca se deu de forma igualitária em nenhuma sociedade” (p.18)
Contudo, é um entendimento comum achar que, se penso e me comunico oralmente com nitidez, escreverei da mesma maneira. Se me informo e leio bastante, escreverei com excelência. Mitos que Robson ajuda a desconstruir.
No ensino superior, esses mitos são ainda mais notáveis. Como reforça o autor, esperamos “estudantes prontos” e à “altura do meio universitário”, mesmo que não saibamos, exatamente, o que isso quer dizer.
Ou seja, “uma vez que chegam ao ensino superior, a expectativa é a de que os estudantes estejam aptos a escrever a qualquer momento aquilo que lhes é exigido, mesmo que nunca lhes tenha sido ensinado fazê-lo” (p.19)
Acho importante destacar alguns pontos que considero fundamentais no livro.
Primeiramente, é relevante citar o ideal romântico que Robson busca investigar. Para o autor, o "discurso romântico" apregoa, ao menos, sete características que seriam, de certa forma, inerentes ao "gênio literário":
"(1) viver uma fase prévia de bloqueio criativo como necessária e inevitável para a geração de uma autêntica obra literária;
(2) necessitar de isolamento para escrever;
(3) esperar passivamente pela inspiração;
(4) dispensar todo planejamento e aprendizagem do que se pretende escrever;
5) descartar instrução para escrever;
(6) renunciar ao manuseio técnico da escrita;
(7) recusar-se veementemente a qualquer processo recursivo da escrita, como a revisão e a edição" (p.36)
É como se pudéssemos esquecer da técnica e nos concentrar apenas na sensibilidade. Sensibilidade, essa, restrita apenas a alguns selecionados. Como se fosse necessário, apenas, crer no dom divino que virá e nos fará escrever uma obra prima, de forma espontânea e quase mágica. Se a iluminação não chegou, talvez a escrita não seja pra você. É basicamente o que o mito do gênio literário quer dizer.
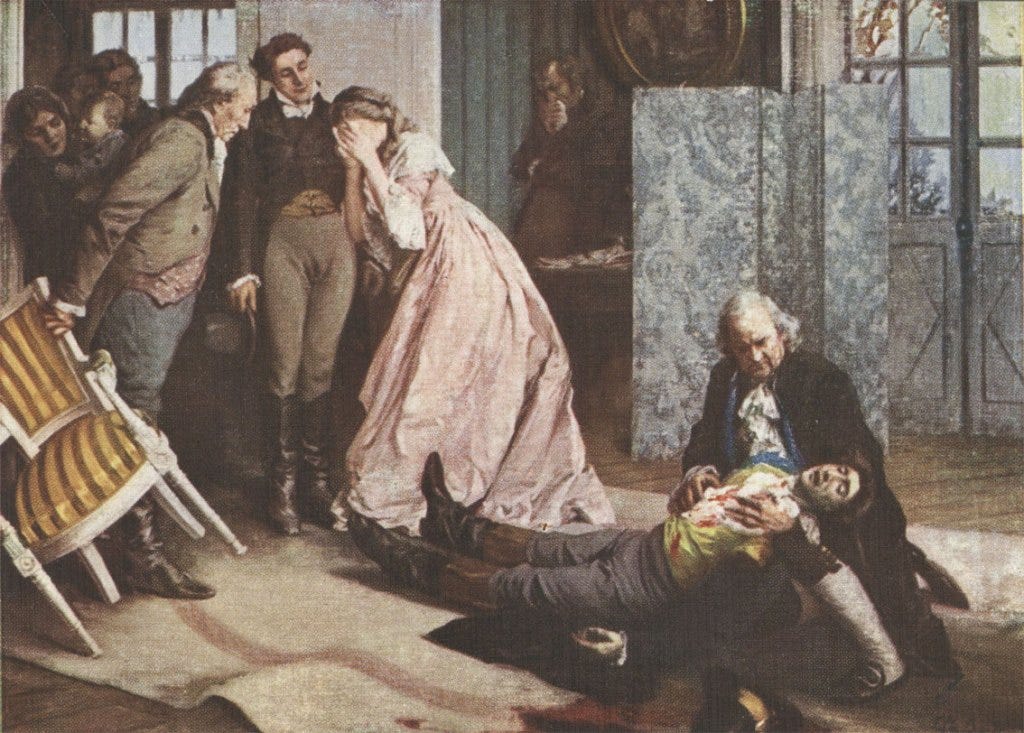
Essas características estão presentes, em algum nível de intensidade, na experiência de escrita de todos nós. Além disso, Robson destaca que, no meio acadêmico, "se destacam o silêncio imposto aos dilemas psicológicos da composição como fase necessária para a geração textual; o isolamento para escrever; o horror à ideia de imitação e a aversão à inevitável necessidade de edição e revisão de textos acadêmicos" (p.37).
Quanto a isso, o professor enfatiza que, em nossas formações universitárias para a docência no Brasil, somos formados para atuar como pesquisadores, mas temos pouca ou quase nenhuma obrigação de estudar disciplinas especificamente voltadas à didática. Ou seja, isso faz com que não tenhamos, de modo geral, muito preparo para "lidar com as dificuldades mais básicas de leitura e escrita dos (as) estudantes universitários (as)" (p.43).
Outro ponto que merece destaque envolve as características do discurso realista, tão bem explorado pelo autor. De natureza mais pragmática, os princípios realistas se alinham mais a uma noção puramente racional do processo de escrita.
Para Robson Cruz (2024), aspectos marcantes desse discurso:
"(1) a crença na existência de uma única maneira de escrever;
(2) a pressuposição de que a verdadeira escrita ocorre de forma linear e ordenada;
(3) a crença de que a escrita representaria perfeitamente o pensamento de quem escreve;
(4) a expectativa de que, para escrever, o(a) escritor(a) deve se sentir totalmente seguro (a) no plano que traçou, tendo total consciência das regras de escrita;
(5) a suposição de que a escrita é uma questão de esforço exclusivamente individual" (p.66).
É interessante observar como essas regras da escrita estão fortemente presentes na experiência acadêmica. Enquanto orientador de trabalhos de conclusão de curso, vejo como os alunos se prendem à obrigação de conhecer "a forma certa de escrever".
Existem, sim, regras científicas e normas que devem ser seguidas para que um texto seja reconhecido no meio científico. Contudo, Robson problematiza essa questão, trazendo recortes contextuais importantes para pensarmos que o realismo não basta. Pior, muitas vezes, ele pode intensificar o sofrimento na hora de escrever.
Como afirma o professor, regras impostas aos alunos (ou docentes) podem mais bloquear o processo do que auxiliar, como:
"Só comece a escrever depois de ter lido tudo o que precisar ler", "escreva a introdução e o resumo só depois de acabar o manuscrito todo"; "só é possível escrever se tiver muito tempo para escrever"; "compartilhe seu texto apenas depois que ele tiver uma primeira versão finalizada"; "só comece a escrita de uma nova seção do seu texto depois de finalizar a seção anterior" (p.80).
Quem já escreve há mais tempo, sabe que não é bem por aí.
Creio que o principal mérito deste livro é trazer um olhar crítico para a experiência da escrita acadêmica e construir argumentos que nos ajudam a refletir sobre o nosso próprio papel, enquanto docentes, em apenas reproduzir estereótipos, ou produzir novas formas de viver a formação acadêmica e a experiência de escrever.
Trata-se de democratizar a prática da escrita e tomar uma postura progressista no que compete ao desenvolvimento científico.
Como provoca Robson, "parte do mal-estar na prática da escrita acadêmica deriva do horror em ter de lidar com um Brasil que nunca deixou de existir: um país incapaz de garantir às camadas mais pobres da população uma educação de qualidade e, logo, o domínio fluente e seguro da escrita" (p.105).
Perto de concluir a obra, Robson traz um resumo que ilustra bem, na minha opinião, o que seria uma "conciliação saudável e necessária entre a expectativa romântica e a realista da escrita" (p.145):
"Tanto as expectativas de escrever com o senso de expressão individual quanto com o senso de organização e domínio formal da escrita são legítimas. Mais do que isso, são essenciais para a emergência de uma escrita acadêmica autoral. Por isso, deveriam ser incentivadas no ensino superior, porque a escrita acadêmica de alto nível depende tanto da sensibilidade de quem escreve quanto das regras declaradas e não declaradas da escrita" (p.145)
Como afirma Robson, estamos longe de alcançar essa conciliação de forma democrática no ambiente acadêmico. Contudo, entendo que, a partir do momento que discutimos isso e enxergamos o nosso papel na construção, manutenção ou transformação desse fenômeno, podemos começar a atuar sobre as causas desse mal-estar silencioso que nos consome.
Se esse texto fez sentido pra você, comente sua experiência com a escrita e/ou busque conhecer o trabalho do professor Robson Cruz.
Um abraço
Editora: Parábola Editorial; 1ª edição - Comum (5 outubro 2024)
Capa comum: 160 páginas
Síntese: A maioria de nós que atuamos na universidade nos agasalhamos na ilusão de que nossas(os) alunas(os), pelo simples fato de terem chegado ao ensino superior, têm domínio, senão total, ao menos suficiente das habilidades de leitura e, principalmente, de escrita. Ilusão ou, talvez melhor, arrogância. Assim como tantos outros bens e direitos desigualmente distribuídos na sociedade brasileira, também o letramento, isto é, o acesso à cultura letrada, ao mundo da palavra escrita, é privilégio e prerrogativa de muito pouca gente — ou seja, o acesso à cultura letrada é um problema político. Aqui, Robson Cruz descreve e critica os construtos ideológicos que presidem os modos como a escrita é tratada no universo acadêmico e que ele designa com os termos romantismo e realismo, tomados de empréstimo à história da literatura — ideologias em que ora se concebe a escrita como um dom individual intransmissível, ora como uma capacidade quase autônoma de retratar fielmente a realidade. Há um mal-estar na academia no que diz respeito à escrita, um mal-estar que falsamente individual, parece abrir possibilidades para uma autocrítica que temos evitado fazer como defensores não só de ideais educacionais progressistas, mas de uma sociedade pautada nesses ideais.
Leia também:

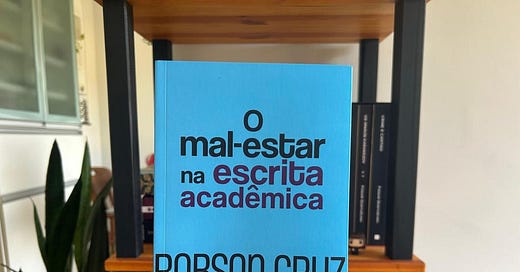


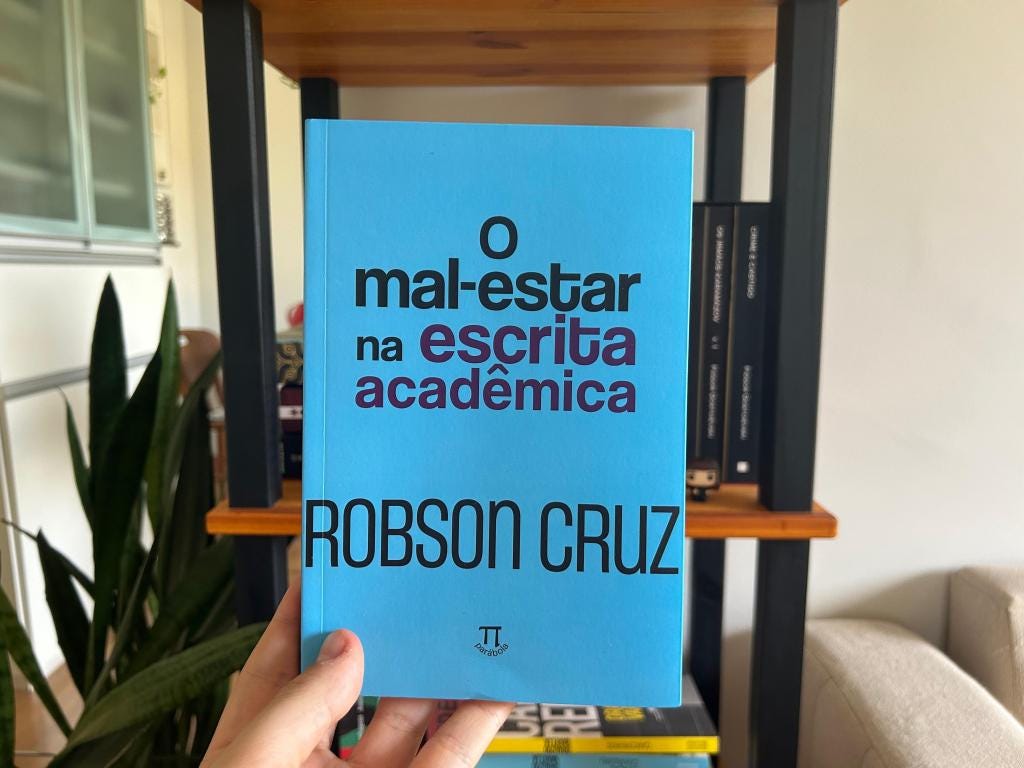
o que mais me incomoda na escrita acadêmica é como autores ou, em alguma medida, a “academia” se obrigam a escrever de forma empolada, textos tão profundamente herméticos que só leitores muito familiarizados com o tema são capazes de compreender. ora, se o objetivo é compartilhar o conhecimento, não estão indo exatamente na contramão?
Interessante, fiquei curioso sobre o livro. Fui professor de redação e literatura por muitos anos e tudo que o Robson diz faz muito sentido. Escrever é, antes de tudo e sem expectativas, lapidar um diamante que não se vê. :)